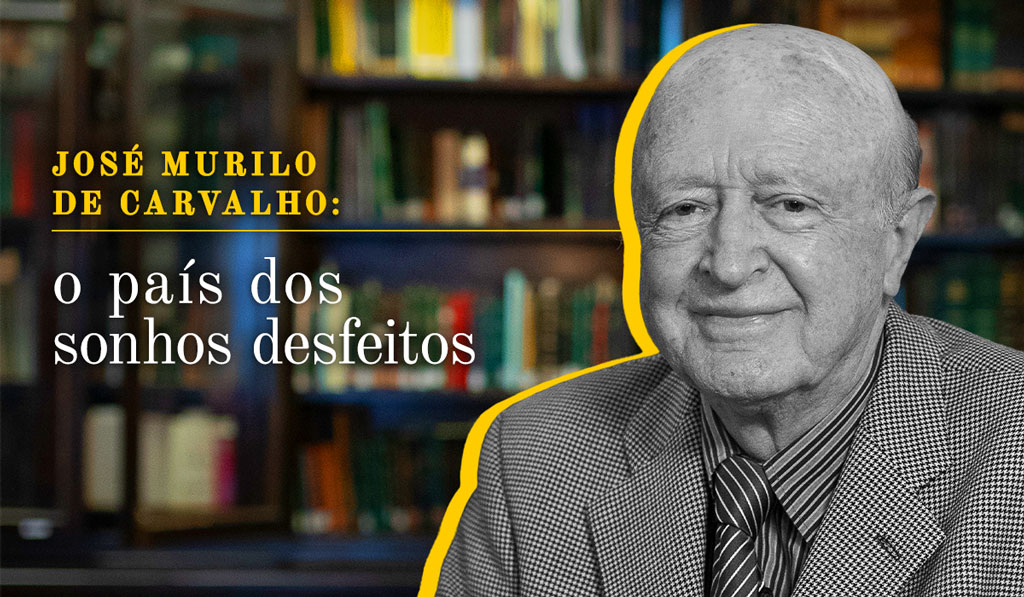Blog
José Murilo de Carvalho: o país dos sonhos desfeitos
Heloisa M. Starling e Lilian M. Scharcz
(texto publicado no livro Três vezes Brasil – Alberto da Costa e Silva, Evaldo Cabral de Mello, José Murilo de Carvalho)
Em 1964, o Brasil estava pegando fogo, os estudantes jogavam achas de lenha embebida em gasolina na grande fogueira que se armava e José Murilo de Carvalho andava próximo ao olho do furacão – era aluno do curso de Sociologia e Política, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Passava o dia inteiro às voltas com os livros, graças a um projeto inovador de ensino criado na Faculdade de Ciências Econômicas (FACE), onde funcionava o curso, e que concedia bolsas a quem estivesse determinado a estudar em tempo integral e disposto a encarar uma pós-graduação no futuro. Nos fins de semana, contudo, José Murilo guardava os livros na estante e ia fazer política. Tinha uma enorme vontade de mudar o Brasil; militava na Ação Popular (AP), uma organização de origem cristã, orientada por formas de ação de inspiração socialista e matriz humanista. O governo de João Goulart (1961-1964) pretendia emplacar uma agenda reformista com viés redistributivo de renda e vocação socialmente inclusiva – as Reformas de Base –, e os integrantes da AP estavam comprometidos com a implantação dessa agenda, especialmente com o planejamento e a promoção da Reforma Agrária. Madrugada de sábado, José Murilo saía de casa para encontrar os companheiros de militância e pôr o pé na estrada: percorria o interior de Minas Gerais ajudando a organizar sindicatos rurais, com apoio do Movimento de Educação de Base (MEB) criado em 1961 pela Igreja Católica, para alfabetizar a população do campo. A AP investiu pesado em ações voltadas para afirmar o direito de organização do trabalhador rural e, entre 1963 e março de 1964, ele e seus companheiros contribuíram ativamente para a criação de cerca de 70 sindicatos no interior do estado.
O golpe militar, em 1964, apanhou quase todo mundo de surpresa. É bem verdade que não dava para ignorar os sinais piscando alucinadamente na cena pública nacional. Em 1964, a estrada onde corria o país desgovernado terminava num abismo, José Murilo escreveria anos depois.[1] A polarização partiu a sociedade em duas lascas, com grupos extremistas à esquerda e à direita – e, a partir de outubro de 1963, a instabilidade política e administrativa do governo de João Goulart ficou evidente. Entre 31 de março e 11 de abril de 1964, a ruptura política e institucional se consumou: ocorreu um golpe de Estado e a deposição do presidente constitucional.
Foi um choque, como José Murilo recorda numa entrevista de 2002. Sua estupefação não foi provocada pelo golpe propriamente dito, mas por aquilo que ainda estava por vir: os acontecimentos em 1964 não repetiram a lógica das tentativas anteriores de intervenção ocorridas em 1945, 1954, 1955, 1956, 1959 e 1961. Até então, o procedimento era o mesmo: as Forças Armadas irrompiam no ambiente político no duplo papel de moderador e protagonista para, em seguida, convocar eleições, devolver o poder aos civis e se recolher aos quartéis. Mas aquele ano de 1964 não era em nada como os outros. No dia 15 de abril, o general Humberto de Alencar Castelo Branco tomou posse no plenário do Congresso Nacional, jurou defender a Constituição de 1946 e garantiu entregar o cargo ao seu sucessor em 1965 – tudo como previa o figurino. Não cumpriu uma palavra do que prometeu.
A surpresa foi essa. O golpe que levou um general à presidência da República não reproduziu o tradicional intervencionismo das Forças Armadas, tão frequentes na história republicana brasileira. Os militares não passaram o poder a seus aliados políticos, como era a praxe. “Vieram, viram, venceram e ficaram”, anotou José Murilo, com uma dose de ironia.[2] A posse do novo presidente foi o prelúdio de uma completa mudança no sistema político, moldada através da colaboração ativa entre militares e setores civis interessados em implantar um projeto de modernização impulsionado pela industrialização e pelo crescimento econômico, e sustentado por um formato abertamente ditatorial – vale dizer, por um governo que não é limitado constitucionalmente.
José Murilo ficou atordoado com a vitória fácil dos golpistas: “Onde estavam os sindicatos, os estudantes, o movimento popular, os generais do povo, o dispositivo militar?”, ainda se indagava em 2005. E quando relembrava o dia seguinte ao golpe, não escondia o travo da melancolia: “No dia primeiro de abril, vagávamos perplexos pela Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, cuidando apenas em não sermos encontrados por algum dos colegas direitistas que andavam armados pelas ruas, caçando subversivo”[3]. Dias depois, quando Castelo Branco assumiu o governo e os atos institucionais começaram a ser publicados, sua perplexidade aumentou. “Como foi possível que ninguém tivesse previsto aquele tipo de golpe, embora todos falassem e muitos pensassem em golpe?”, ele se perguntara inúmeras vezes, enquanto tentava refletir sobre o que tinha acontecido: “Como foi possível ignorar as mudanças por que passaram as Forças Armadas, responsáveis por sua nova postura?”.[4]
Encontrar respostas ia levar tempo e não seria nada fácil. Praticamente inexistia, no Brasil, uma bibliografia acadêmica analisando as Forças Armadas e, depois de consumado o golpe, escrever sobre os militares andou provocando desconforto no campo das esquerdas, especialmente nas universidades e no meio intelectual brasileiro – o sujeito corria o risco de tornar-se suspeito de alimentar alguma simpatia para com o governo dos generais. Nada disso, contudo, respondia às suas perguntas ou encerrava a questão; e, entre 1974 e 1977, José Murilo publicou parte dos resultados do que viria a ser uma extensa pesquisa sobre o papel político dos militares em nossa história republicana. As primeiras conclusões apareceram na revista do departamento de Ciência Política da UFMG, onde ele deu aulas durante nove anos e, três anos depois, mais extensas, no formato de capítulo escrito para o penúltimo volume da coleção História Geral da Civilização Brasileira, dirigida por Boris Fausto.[5] O livro sobre os militares ainda iria demorar – Forças Armadas e política no Brasil só seria publicado em 2005.
Valeu a pena esperar. O livro foi escrito na fronteira entre os campos da História, da Análise Política e da Sociologia e chegou às livrarias com fôlego suficiente para produzir uma reviravolta nos estudos sobre os militares brasileiros. Além disso, Forças armadas e política no Brasil revela o uso de determinadas modalidades recontitutivas do passado que se tornariam uma das principais marcas de sua historiografia. O impulso de esquadrinhar o passado é desencadeado a partir de perguntas específicas e motivado por questões atuais. Interrogar o passado para pensar com ele, mantendo um olho no presente, permitiu a José Murilo falar a língua meio estranha dos historiadores. O que ele procura não são necessariamente os momentos traumáticos do passado. Sua historiografia indaga as fontes e observa no tempo aquilo que aparece como contrastante, ao mesmo tempo em que busca pelos indícios de algo que está ainda em forma embrionária e que só irá ganhar nitidez e profundidade quando visto sob uma luz nova, no presente.
Forças armadas e política no Brasil instituiu uma nova maneira de abordar os estudos sobre o comportamento político dos militares, mas não se detém nem nos acontecimentos imediatamente anteriores ao golpe de 1964, nem na conspiração que uniu a nata do empresariado brasileiro aos generais da Escola Superior de Guerra na preparação e execução de um bem orquestrado esforço de desestabilização do governo de João Goulart. O percurso foi outro, e José Murilo encontrou as razões do comportamento político das Forças Armadas no estudo da instituição militar e de suas formas de organização interna, desde a Primeira República. Entender o ambiente e o modo como a instituição militar se comporta foi decisivo para sua análise das propostas de intervenção e das opções de ação política, assumidas ao longo da nossa história republicana tanto pela oficialidade quanto por praças – responsáveis, no limite, por fazer em pedaços a experiência democrática da Segunda República (1946-1964) e por instalar no país uma longa ditadura, que durou 21 anos.
Suas perguntas viajaram para frente e para trás no tempo através da pesquisa histórica. O Exército politizado começou a surgir no Império, a partir da década de 1850, dentro das escolas militares, mas as Forças Armadas só se tornaram um poder desestabilizador na cena pública brasileira em outro momento – durante a Primeira República. A mudança definitiva, porém, sobreveio ao final da década de 1930. O Exército foi o mais sólido e confiável aliado da ditadura do Estado Novo, seu principal instrumento de controle, e emergiu, em 1945, com papel redefinido, concluiu José Murilo. Tornou-se uma organização moderna, com armas, equipamentos e tropa condizentes. A instituição militar também havia se transformado em algo qualitativamente diferente e, em termos políticos, bem mais letal: uma força autônoma, intervencionista, convicta de ser a única em condições de formar uma elite bem treinada, organizada, com visão nacional e preparada para atuar na cena pública com legitimidade própria.
Essa convicção intervencionista permanece até hoje. É parte da fragilidade da nossa República, analisa José Murilo de Carvalho, em capítulo escrito especialmente para a reedição do livro, em 2019, e que examina os sinais de ressurgimento da interferência dos militares na vida pública nacional. Nos últimos trinta anos, as Forças Armadas sofreram inúmeras modificações: a composição social foi alterada, o treinamento e os valores não são os mesmos. Mas nuvens carregadas continuam turvando o céu. A atribuição de papel político à instituição militar é sancionada em cinco das sete Constituições feitas após a Independência – e integralmente mantida pela Constituição de 1988. É sintomático que não tenha havido sequer uma tentativa de mudança nas três décadas de governo civil que se seguiram à ditadura militar – isso serve como uma armadilha, e estamos presos nela, ele sublinha. As Forças Armadas estão autorizadas constitucionalmente a intervir na cena pública em nome da garantia da estabilidade do sistema político, e essa autorização funciona como um entrave para a consolidação das práticas democráticas. É como se nossa República precisasse de uma bengala – e entregasse aos militares o papel político de tutela.[6]
Em 1965, José Murilo de Carvalho embarcou para os Estados Unidos para cursar pós-graduação na Universidade de Stanford. Ele deve ter levado na bagagem certa dose de frustração – o que é, para dizer o mínimo, um bom palpite. Afinal, quaisquer que fossem as ressalvas que pudessem ser feitas à presidência de João Goulart, esse foi o único governo, até então, disposto a propor, em uma conjuntura democrática, um programa reformista radical, ao mesmo tempo compromissado com a desigualdade social e com a necessidade de apresentar um percurso ambicioso e alternativo para modernização do país. E convenhamos: o golpe de 1964 representou uma dura derrota para quem estava mobilizado à esquerda, sobretudo nos meios universitários da época.
Talvez o desejo de compreender o que aconteceu com o país – e, de certo modo, com a própria vida – tenha funcionado como gatilho; e no sentido de urgência despertada por aquela conjuntura esteja a origem do sentimento que levou José Murilo a procurar conceitos e palavras para entender os sinais de que alguma coisa ocorria às avessas no Brasil. Algo deu errado em nosso desejo de futuro, e pensar sobre isso com clareza organiza desde então sua reflexão sobre o país: “Somos um povo que vive de sonhos desfeitos”, declarou em 1999.[7] Também é possível imaginar que a sensação de ver o Brasil de fora tenha sido indispensável para despertar nele o desejo de entendê-lo. À distância, José Murilo pode ter concluído que os militares claramente faziam parte do problema, mas o nó estava em outro lugar: seria preciso se aproximar do passado para conhecer de perto o Brasil e compreender por qual motivo algo não se cumpriu em nosso projeto de nação. Possivelmente começou aí um esforço para entender o Brasil – e não apenas uma parte da nossa história –, motor responsável por alinhar perguntas que ele se faz até hoje em artigos e livros. Por exemplo: Como entender o saldo negativo de um país no qual as chances de modernização política – instituições sólidas, liberdade, igualdade e bem-estar social – são reais, mas os resultados estão sempre aquém do planejado e a cidadania segue fugidia?
A temporada no exterior deve ter levado José Murilo a refletir acerca dos impasses e das alternativas do país. É bem verdade que ele nunca mais parou de se perguntar sobre o Brasil e, quem sabe, não vá discordar se alguém se arriscar a dizer que determinadas perguntas funcionam como andaimes para sustentação de sua obra. Na prática, são elas que fornecem os temas e organizam o conjunto de ideias que ele investiga, aparecendo constantemente trançadas umas nas outras em seus livros: Por qual motivo o país caminhou ao inverso, da formação do Estado para a fundação da nação? Qual o grau de participação do povo na vida pública nacional? E por que tudo dá errado mesmo quando são concretas as nossas chances de superar a miséria, modernizar uma sociedade profundamente desigual e garantir os mecanismos de aprofundamento da cidadania?
Não se trata evidentemente de construir um Brasil em negativo, com heróis sem heroísmo e história sem acontecimentos. José Murilo de Carvalho não é um autor espremido entre o pessimismo, a força do destino e a ênfase na construção de uma espécie de “historiografia da falta”, de feitio meio bovarista, como diria Sergio Buarque de Holanda, que provoca uma evasão no imaginário e leva o historiador a idealizar um Brasil diferente do que é.[8] Ao repaginar o país para nos dizer o que ele era, seus livros buscam principalmente entender o brasileiro que fomos e que deveríamos ou poderíamos ser. Esse entendimento é essencial para refletimos sobre o presente – e, é claro, também para conseguirmos intervir de maneira positiva em um Brasil que precisa indubitavelmente ser melhor do que o que temos hoje. Aliás, as respostas encontradas por José Murilo estão longe de fornecer um balanço final; a função é outra. Elas facultam ao leitor uma compreensão mais alargada e consistente do que a contemporaneidade brasileira ainda oculta. No conjunto, sua obra orienta uma maneira de pensar e sentir o Brasil.
Em sua tese de doutorado, em Stanford,[9] José Murilo começou a resenhar um país cujas possibilidades são reais, mas os resultados estão sempre abaixo do que foi planejado. Seu desafio era entender os procedimentos de formação de um Estado nacional, no Brasil, durante o século XIX. A “construção da ordem”, como ele batizou esse processo, garantiu a manutenção da unidade política na imensa e desarticulada colônia portuguesa e conseguiu impedir a fragmentação do território, sobretudo em comparação com a experiência da América espanhola. Isso só foi possível por força do tipo de elite política existente à época, isto é, do conjunto de homens que governaram o país – ministros, conselheiros de Estado, senadores, presidentes de província, deputados – e de sua atuação na constituição do Estado imperial.
A existência de um grupo de cerca de quinhentas pessoas recrutado substancialmente entre os setores sociais dominantes, com idêntica composição letrada, obtida na mesma instituição – a Universidade de Coimbra – e concentrada no Rio de Janeiro, teve consequências, analisa José Murilo. As características comuns garantiram homogeneidade ideológica e treinamento profissional aos integrantes do grupo, reduziram os conflitos intra-elite e conduziram suas escolhas. Mesmo atuando dentro de certas limitações em suas decisões políticas, especialmente as de natureza econômica, essa elite foi bem-sucedida no processo de construção do Estado. Sustentou um projeto unitário, proclamou a manutenção da centralidade do antigo território da colônia sobretudo durante nos anos regenciais, repletos de revoltas, evitou o predomínio militar na organização do poder, determinou a especificidade política do Estado que se formou no Brasil e de seu sistema de governo, definido por uma monarquia constitucional representativa.
O protagonismo de uma elite centralizadora em excesso e fortemente conservadora está na matriz da configuração do Estado brasileiro. Tudo somado, suas escolhas políticas facultam ao leitor de hoje uma visão mais clara do ponto em que se origina a forma de organização do poder do Estado e de onde vem seu traço autoritário – e, naturalmente, oferecem uma perspectiva para a compreensão de questões que surgiram depois do século XIX. Mas as ideias e valores que predominaram entre os membros dessa elite, bem como as instituições que ela implantou e lhe serviram como sustentáculos de poder – o Conselho de Estado, o Senado Vitalício, o Poder Moderador –, mantinham uma relação tensa de ajuste e desajuste com a realidade social. Havia uma ambiguidade que atravessava as instituições e fazia da política um jogo de representação, uma espécie de “teatro de sombras”, para usar a definição de José Murilo. Foi a obsessão por centralização como garantia de controle que levou a elite imperial a sufocar com violência as opções políticas de natureza federalistas e republicanas emersas nas revoltas regionais; aliás, esse é um forte sinalizador indicando que a adesão das províncias ao projeto do Império não seria executado apenas por meio do convencimento, nem contaria com apoio unânime no interior da antiga colônia portuguesa na América.
Finalizada em 1974, a tese de doutorado rendeu dois volumes – A construção da ordem e Teatro de sombras. No Brasil, a recepção foi fria: tal como aconteceu com os artigos que ele escreveu sobre as Forças Armadas, a publicação da tese, em 1980, também acabou sendo ignorada por um bom tempo. Tinha a ver com as circunstâncias da época. Numa conjuntura politicamente efervescente e que marcou o período final da ditadura militar, escrever sobre os movimentos populares, em especial sobre a classe operária, significava adotar uma estratégia de resistência e de enfrentamento oposicionista. Já estudar as “elites” cheirava a conservadorismo, e teve muita gente nas universidades torcendo o nariz para a publicação da primeira parte da tese de José Murilo, intitulada “A construção da ordem: a elite política imperial”. “Imagina, quem lê esse livro?”, desdenharam.[10]
Envolvido com a pesquisa e a análise sobre a elite política imperial e seu papel na formação do Estado brasileiro, era o caso de perguntar onde José Murilo arranjava tempo, em Stanford, para ir à forra dos estudos. Na virada da década de 1960 para os anos 1970, os ventos do movimento da contracultura sopraram com força nos Estados Unidos e a importância do rock se consolidou como linguagem musical. José Murilo sentou-se em volta de fogueiras contando vaga-lumes, participou das marchas hippies contra a guerra do Vietnã, em São Francisco, e foi escutar Joan Baez cantar “The Times They Are A’ Changin”, com Bob Dylan, em Berkeley. Também passou aperto: em Austin, refugiou-se com colegas na biblioteca e escapou dos tiros disparados por Charles Whitman, um estudante de engenharia que se entrincheirou dentro da torre da Universidade do Texas e durante quase duas horas atirou aleatoriamente sobre tudo que se movia no campus – matou 14 pessoas e feriu 32. Mas encerrado o calendário de aulas, ele não quis nem saber: comprou um carrão usado – um Sport– e, meio à moda Easy Rider, resolveu viajar Estados Unidos; a aventura terminou com uma vaca atropelada em uma estrada do Colorado.[11]
E, naturalmente, o processo de redação da tese ofereceu ao autor uma dose própria de peripécias. Se a elite política imperial teve êxito no processo de formação do Estado, observa José Murilo, o problema que veio a seguir – a constituição da nação – se revelou intratável. É fácil entender a razão. A manutenção da unidade do país, avalizada pela Monarquia, foi o meio eficaz de concentrar poder, garantir a ordem social e preservar a escravidão. Mas, a partir da década de 1840, quando essa elite terminou de se entender internamente em torno do comando do Estado, o povo desapareceu do cenário oficial da política. Após a Abolição e o início da República, o desaparecimento se acentuou. Na realidade, a democracia vacilou e tropeçou quando se viu forçada a confrontar-se com a pergunta, difícil de ser formulada publicamente numa sociedade como a brasileira ao final do século XIX, escravista, hierárquica e desigual: Quem pertence – e quem não pertence – à comunidade dos cidadãos?
O sentimento de fazer parte de uma comunidade nacional só veio depois, demonstra José Murilo de Carvalho. Materializou-se entre nós muito devagar e se baseou em dimensões que não têm a ver com a história política do país: futebol, carnaval e natureza edênica.[12] Esse esforço de sondar a alma da nação através da análise da escassez de substância democrática na construção da República desvela, em sua obra, a dramática persistência de nosso impasse entre sonho e realidade. Ou, como ele mesmo diz em uma entrevista concedida em 2000, quando trata das encruzilhadas que o Brasil tinha pela frente no exato momento em que o país celebrava quinhentos anos do Descobrimento: “Somos marcados por uma profunda contradição. De um lado herdamos de Portugal o sonho de nos tornarmos um grande império, batizado por Vieira de ‘Quinto Império’, rebatizado pelos militares de Brasil ‘Grande Potência’. De outro lado, temos demonstrado sistematicamente nossa incapacidade para construir esse Império […]. Entre o sonho de grandeza e a incapacidade de ser grande germina a frustração”. Evidentemente José Murilo não tinha como saber o futuro, mas, o arremate da entrevista soa profético: “Já que somos incapazes de construir nossa grandeza, quem sabe se um novo dom Sebastião não o pode fazer por nós?”, desabafou. [13]
Essa espécie de reflexão do inverso por vezes sardônica é típica do pensamento de José Murilo de Carvalho. Ele se utiliza dela, sobretudo, para calibrar uma preocupação permanente, que reaparece tanto na forma da pesquisa quanto como objeto de reflexão, em todos os livros que escreveu após a publicação de sua tese de doutorado: no Brasil, aspirações democráticas e republicanas existem e são formuladas ao longo da história, mas não se fazem acompanhar das ações apropriadas para sua efetiva realização. Sua insistência em deslindar o impasse que o país experimenta até hoje entre República e democracia – e, além disso, compreender as razões da nossa incapacidade em acoplar uma à outra – ajuda a conhecer melhor seus pontos de interesse e entender os motivos de sua obra estar fortemente concentrada em quatro grandes temas: a construção do Estado Nacional; a tópica da República; o grau de participação política das camadas populares; e as dificuldades encontradas pela sociedade brasileira no longo processo de construção da cidadania no país. Talvez seu primeiro livro, “A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória,” seja uma exceção; mas só em parte. Afinal, narrar a criação da Escola de Minas foi o primeiro encontro de José Murilo com a história de um Brasil oitocentista, pouco afeito às transformações geradas pelo ensino moderno de engenharia e pela pesquisa tecnológica e, ao mesmo tempo, quase visionário na disposição de apostar na emergência do pensamento científico para provocar uma grande transformação na vida econômica e política nacional.[14]
Encerrado o período em Stanford, José Murilo cuidou de reorientar o eixo de suas pesquisas e o enredo que queria dar à sua historiografia. Mudou o foco, decerto; e sua base de observação se desloca de modo a dar conta de tantos outros assuntos. Com o tempo, ele foi montando uma estrutura engenhosa de encaixe dos temas, embutidos uns dentro dos outros: do Estado para a nação, da elite para a relação entre o povo e o poder, do final do Império para o início da República. A estrutura de engate é estratégica e vai conduzir o fio da sua produção intelectual, mas esse fio não segue em linha reta. Não por acaso, em 2012 José Murilo coordena uma coletânea de ensaios intitulada A construção nacional 1830-1889, voltada para a análise do período histórico no qual se forjaram alguns traços marcantes para o Brasil e para a América hispânica – a natureza da sociedade, do governo e da cultura. Em sua obra, esse é o momento em que se torna possível recompor algumas chaves interpretativas do Brasil: a unidade política, a continuidade econômica e social, a monarquia presidencial e uma cultura partida[15]. Já a publicação de O pecado original da República, em 2017, sua mais recente coletânea de ensaios, confirma o percurso. A trama do livro não tem nada de linear e está enunciada em três grandes blocos: a participação popular no período republicano; as revoltas do povo; o perfil de um pequeno punhado de personagens que atualizam a aventura nacional brasileira, cada um à sua maneira – incluindo, por exemplo, o compositor popular, protagonista na construção de uma narrativa característica sobre o Brasil.[16]
Entre a tese de doutorado e a publicação de O pecado original da República, houve continuidade, mas, sem dúvida, também ocorreu uma ruptura. Em 1978, José Murilo despede-se da UFMG e se transfere para o Rio de Janeiro. A quebra começou aí. “Fiquei exposto a um mundo cultural e acadêmico muito mais rico do que o de Belo Horizonte e onde o Jornal do Brasil, graças a alguns de seus editores da época, me ajudou a reaprender a escrever e a ter acesso a um público mais nacional”, ele confirma.[17] Além disso, a vivência profissional cotidiana em duas instituições de pesquisa do Rio de Janeiro – a Casa de Rui Barbosa e o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) – foi decisiva para a ampliação dos temas e o amadurecimento da sua historiografia.[18]
No início dos anos 1980, José Murilo afivelou as malas para uma nova temporada nos Estados Unidos – desta vez no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. A estadia consolidou de vez a ruptura e o levou a fazer algumas escolhas conceituais e metodológicas que se tornaram características da sua historiografia. Uma delas, talvez a mais evidente em seus trabalhos: a ênfase na importância da imaginação e da multiplicidade das fontes como ferramentas capazes de tornar flexível o campo da História, transbordar os limites estreitos da especialização e convidar o historiador a travar diálogos improváveis e não antecipados com outras áreas de conhecimento. Suas escolhas não foram feitas ao acaso. Princeton era outro mundo, conforme ele gosta de contar. “Um paraíso com o qual sonham todos os pesquisadores. Os convidados eram pagos para fazer, durante um ano, aquilo que lhes dava na telha, havia uma liberdade total. Parte dessa minha mania de não respeitar muito as fronteiras disciplinares veio de lá, como veio o interesse pela história da arte”.[19]
O Instituto era mesmo um fervedouro de ideias. Em Princeton, José Murilo conviveu com a historiadora canadense Natalie Zemon Davis, uma das responsáveis por recolocar em pauta os estudos biográficos no campo da historiografia contemporânea, com o livro O retorno de Martin Guerre.[20] Estavam também por lá, na mesma época, o historiador Lawrence Stone, que construiu a estrutura metodológica para a recuperação do uso da narrativa histórica,[21] além do antropólogo Clifford Geertz e do historiador Robert Darnton, a dupla que aproximou história e antropologia. José Murilo deve ter ficado fascinado ao ouvir Darnton expor, durante o almoço, a arquitetura do livro que escrevia sobre os violentos rituais praticados por artesãos franceses no século XVIII, estudo que deu origem a O grande massacre dos gatos;[22] e possivelmente andou se inspirando em Darnton e Geertz para construir um jeito próprio de destravar a linguagem na hora de contar uma boa história ou no modo de análise de um microfenômeno – um ritual, uma obra, um evento para encontrar as características da sociedade dentro da qual ele ocorre. Em resumo, ele pôde sentar-se à mesa com físicos, economistas, historiadores e antropólogos de todas as partes do mundo: cada convidado do Instituto tinha, no mínimo, uma excelente ideia para contar aos colegas. Também andou jogando futebol com pesquisadores – um deles, gênio da matemática, era perna-de-pau, e naturalmente essa é a explicação para as inúmeras derrotas sofridas pelo time.[23]
De volta ao Brasil, José Murilo publica Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi, em 1987, um livro diferente de tudo o que tinha escrito até então. A instalação da República é um momento estratégico para analisar os procedimentos de formação do cidadão e identificar as raízes históricas que permitem entender qual seria a concepção de cidadania e como ela se realizou em termos práticos no Brasil, em especial entre as camadas populares.[24] Afinal, esse foi o momento em que ocorreu a primeira grande mudança de regime político após a Independência, e a República se apresentava, ao menos na voz de seus propagandistas radicais, como um sistema de governo disposto a trazer o povo para o centro da vida pública – na melhor tradição da Revolução Francesa de 1789, aliás.
O Rio de Janeiro, por sua vez, era a maior cidade do Brasil, além de ser sua capital política e administrativa. O modo como a população carioca se comportava na cena pública tinha consequências praticamente em todo o território nacional. . Além disso, se a conjuntura da transição do regime político não produziu suas próprias matrizes de pensamento republicano, ela também não deixou de abrir as janelas do país para a circulação livre de ideias, inclusive as radicais – por exemplo, o anarquismo e o socialismo –, responsáveis por desenvolverem várias concepções de cidadania, nem sempre compatíveis entre si. A articulação entre os três temas – o regime republicano; a cidade do Rio de Janeiro; a incorporação das camadas populares à cidadania – tinha tudo para ser positiva e forneceria o fermento político das liberdades civis, a base necessária para a inclusão do povo no mundo público.
Então, o que deu errado? Basicamente, o enredo desafinou por força da ausência de atores para representá-lo, esclarece José Murilo de Carvalho. Isso aconteceu por duas razões. Em primeiro lugar, a República, no Brasil, consolidou-se sobre um mínimo de participação eleitoral, vale dizer, sobre a exclusão das camadas populares de envolvimento nos assuntos de governo. Os vitoriosos do Quinze de Novembro construíram o mecanismo que garantia voto apenas a quem eles julgavam confiável para a tarefa da preservação da sociedade. Somado a isso, a Constituição de 1891 deixou boa parte da população brasileira do lado de fora da República: excluiu escravizados libertos e pobres – pela exigência de alfabetização, já que os analfabetos não poderiam votar –, além dos mendigos, praças de pré, membros de ordens religiosas, menores de 21 anos.Os constituintes não precisaram tratar da participação feminina: as mulheres já estavam excluídas pela Lei Eleitoral de 1890. A segunda razão é consequência da relação atípica que a República construiu com o Rio de Janeiro e que se realizou politicamente na contramão da experiência histórica europeia. Entre nós, a República neutralizou a cidade reprimindo a emergência da população urbana na cena pública. O motivo? “O povo não se enquadrava nos padrões europeus”, explica José Murilo, “nem pelo comportamento político, nem pela cultura, nem pela maneira de morar, nem pela cara”.[25]
Mas esse povo não tinha nada de apático ou bestializado, não era espectador e muito menos figurante, argumenta José Murilo. E isso teve consequências. Impedida de ser República, a cidade criou suas repúblicas – os nódulos de participação social que surgiram em determinados bairros, associações, irmandades, grupos étnicos, igrejas, festas religiosas e profanas, cortiços e maltas de capoeiras. Foi assim que negros livres, ex-escravizados, imigrantes, proletariado e mesmo os setores médios urbanos que surgiram após 1850 em cidades maiores, como Rio de Janeiro, Recife ou Salvador, aos poucos foram encontrando um espaço comum de auto-reconhecimento e propiciaram a construção de uma identidade coletiva para a cidade.
O mundo subterrâneo da cultura popular foi engolindo, devagar, o mundo sobreterrâneo da cultura das elites, mas a tensão política cresceu com rapidez no Rio de Janeiro, a capital da República. O sistema político formal funcionava a pleno vapor; o regime republicano, contudo, não abriu espaço para a manifestação da opinião pública nem forneceu canais legítimos de participação – comportava-se como se a cidade não tivesse povo. Foi então, conta José Murilo, que as camadas populares resolveram agir politicamente na cena pública, mas fora dos canais oficiais, e começaram a pipocar greves, arruaças, quebra-quebras. Explodiram, em formato alternativo, os focos de tensão e revolta – as “repúblicas renegadas pela República”, para usar a definição precisa do autor quando se refere, por exemplo, ao episódio de Canudos ou ao Contestado. E, é claro, José Murilo não vai perder a chance de levar seu leitor a visitar uma dessas repúblicas: as barricadas de Porto Artur, a cidadela inexpugnável na rua da Harmonia, no bairro da Saúde, que em 1904 inspirou medo à outra República, durante a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro.
A essa altura do livro, seria fácil acontecer um escorregão e a análise cair na armadilha populista: mitificar o povo e desqualificar furiosamente a elite – de preferência, as forças dominantes do Brasil agrário, que mantinham as desigualdades e sustentavam o modelo excludente de República. Teria azedado a história toda, mas não é o que acontece. De sua parte, os setores populares reagiam, acionavam o sentido integrativo de solidariedade e concretizavam suas próprias experiências de vida numa comunidade autogovernada. O problema, contudo, é que nada disso passava pelos mecanismos institucionais da política, constata José Murilo. A revolta explode, chega eventualmente a paralisar a ação do governo, mas não tem maiores consequências: não consegue forçar a criação de políticas públicas nem alcança a democratização da República.
O assunto ganhou importância para José Murilo que continuou a retomar a questão da exclusão política das camadas populares em seus escritos e passou e passa a refletir sobre o tema em uma perspectiva histórica ampla. Por exemplo: persiste no cenário contemporâneo, um traço característico dos protestos e grandes mobilizações populares. Na pratica, ele diz, os eventos crescem, estrondam nas ruas, mas são incapazes de deitar suas raízes. E como desaparecem rapidamente da memória nacional, não se transferem para o campo da política institucional, nem contribuem para formar consciência cívica. “A primeira grande campanha cívica da história do país foi a do abolicionismo”, ele aponta Mas o impulso participativo morreu com a Abolição. A campanha não teve sequência, e “os poucos que insistiram na argumentação de que a Abolição era o primeiro, e não o último, ato em favor da integração dos ex-escravos, como André Rebouças, clamaram no deserto”. E alerta o leitor para a importância do que estava à sua frente: “As duas grandes campanhas cívicas recentes, a das Diretas e a do impedimento [do presidente Fernando Collor] foram pontuais, com objetivos precisos e de curta duração. Não tiveram sequência e não produziram nenhuma forma organizacional nova”.[26]
Tudo muito claro: existem aspectos da democracia que a República brasileira não resolveu. José Murilo, contudo, não se dá por satisfeito. Quatro anos depois, em 2001, publica o primeiro trabalho inteiramente dedicado ao tema da exclusão popular. Cidadania no Brasil: o longo caminho, como o nome indica, desenha o percurso arrevesado para construção da cidadania no país. O livro examina a politização da liberdade e a noção de igualdade ao tempo do Brasil independente, passa pelo Império, atravessa a República e deságua na contemporaneidade. Com um detalhe: nas edições mais recentes, acrescentou um novo prefácio – “A história prega uma peça” –, que escreveu no calor do momento, sobre as manifestações que reuniram milhares de pessoas em 2013, varreram doze capitais e as grandes cidades brasileiras e revelaram um sentimento de insatisfação e de frustração, além de uma agenda meio caótica e contraditória por mudanças.[27]
Seguir o percurso da cidadania no Brasil significava retomar, ao menos em parte, alguns dos problemas que ele enfrentou ainda na tese de doutorado; em especial a relação dos brasileiros com o Estado e com a nação. Ser cidadão é ser membro de um corpo político mais amplo, é pertencer a alguma unidade. As coisas nem sempre aparecem juntas, José Murilo argumenta, mas as pessoas se tornavam cidadãs à medida que se identificavam com uma nação e desenvolviam formas de lealdade ao Estado. O fenômeno da cidadania é complexo, historicamente definido, expressa o ideal emancipacionista e converge para uma comunidade de expectativas e de reivindicações. Isso significa dizer que, em alcance, cidadania está intimamente relacionada a procedimentos da construção democrática no país. Além disso, cada país tem seu jeito, se movimenta num caminho próprio e nem sempre esse caminho segue numa direção única. No Brasil, são pelo menos duas particularidades, sublinha José Murilo. Uma, indica que a ênfase na construção do catálogo de direitos – o parâmetro por onde se pode avaliar a qualidade da cidadania em um país e em cada conjuntura histórica – recaiu sobre os direitos sociais, em detrimento dos direitos civis e dos direitos políticos. A outra, mostra alteração na sequência em que os direitos foram incorporados: o social precedeu os demais.
A pirâmide dos direitos está de cabeça para baixo, ele conclui. A inversão afeta a qualidade da cidadania, o tipo de cidadão que se gera e a eficácia da democracia. Numa ponta, sobrevive a excessiva valorização do Executivo, e a ação do cidadão é orientada para a negociação direta com o governo, sem passar pela mediação dos partidos e da representação parlamentar – é a “estadania”, como ele batizou, em oposição à cidadania, uma cultura orientada mais para o Estado e menos para a representação. Essa cultura fornece ingredientes autoritários, incentivando grupos sociais a saírem em busca de um messias político e contribuindo para a desvalorização do Legislativo e de seus titulares – além de alimentar um comportamento corporativo na sociedade, sobretudo quando entram no jogo político os interesses coletivos e os direitos e privilégios distribuídos pelo Estado. Na outra ponta, cresce a incapacidade do sistema representativo de produzir políticas públicas capazes de garantir redução no quadro das desigualdades e de suprimir os mecanismos geradores de hierarquias sociais a partir de educação, renda, gênero ou cor.
Cidadania no Brasil: o longo caminho é seu livro mais popular, deliberadamente escrito para o público não especializado. Mas a composição de sua escrita já está praticamente pronta em Os bestializados. José Murilo adotou um estilo literário difícil de definir, no qual combina e equilibra diversos ingredientes: descrição factual; enredo encaixado a partir de um conceito – por exemplo: cidadania, República, democracia, ação política, espaço público –; reconhecimento do detalhe, do dissonante, do descontínuo como essencial para compreensão do argumento; análise interessada em explorar a dimensão política do acontecimento. Nem propriamente ensaio, nem bem narrativa, o método de sua escrita é inconfundível e transborda os limites do historiador para dialogar com outras áreas de conhecimento, em especial a Teoria Política e a Sociologia. Por último, a análise costuma ser contundente, mas na interpretação, por vezes, ele deixa escapar um comentário bem-humorado, irônico, fino e típico.
A outra marca original de sua escrita vem do uso intensivo e da multiplicidade de fontes. O uso de fontes improváveis – e, por vezes não categorizáveis – para produzir conhecimento claro sobre o passado, em melhores condições e de forma mais abrangente e profunda, aparece pela primeira vez em Os bestializados. José Murilo se apoiou nesse tipo de fonte para desenvolver sua análise das práticas políticas populares: samba, carnaval, festas religiosas – a festa da Glória e da Penha –, sociedades religiosas e de auxílio mútuo, crônicas, o teatro de revista carioca. Mas foi em seu trabalho seguinte, A formação das almas: o imaginário da República no Brasil, [28] publicado em 1990, que ele apostou fortemente na iconografia para examinar as fontes simbólicas utilizadas pelos republicanos na tentativa de legitimar a ideia de República no país.
O fio desse livro também começou a ser desenrolado em Os bestializados. Se a implantação da República ocorreu com participação popular reduzida, ele se pergunta, alguma coisa deve ter sido feita por parte dos vitoriosos do Quinze de Novembro de 1889 para tornar o novo regime mais popular e legítimo. Seria necessário realizar um esforço continuado de formação das almas, isto é, de constituição de uma opinião pública favorável a partir da difusão ampla de um modelo doutrinário e simbólico. E se o propósito era atingir setores muito amplos da população, não iria adiantar grande coisa desenvolver esse esforço por meio da linguagem escrita, ao menos num país com mais de 80% de analfabetos. José Murilo decidiu então analisar outras linguagens capazes de acionar um imaginário coletivo: as obras de arte, os monumentos públicos, a arquitetura, os símbolos nacionais republicanos – o hino e a bandeira –, o uso de certas alegorias, especialmente a alegoria feminina da República, a produção de um mito de origem, a criação de heróis.
Mas não ficou nisso. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil revela as linguagens e as ferramentas simbólicas por meio das quais, os republicanos tentaram alcançar a imaginação popular, criar uma cultura política favorável ao novo regime e expandir sua base de legitimidade. Entre eles, existiam basicamente três grupos: “liberais republicanos” – como eles se autonomeavam –, jacobinos e positivistas de diversos matizes, inclusive ortodoxos. A vertente jacobina investiu pesado na simbologia originária da Revolução Francesa, sobretudo na alegoria feminina da República e na força de mobilização do hino francês – costumavam cantar a “Marselhesa” pelas ruas do Rio de Janeiro a plenos pulmões. Os mais empenhados, porém, foram os positivistas que conseguiram formular claramente uma concepção de República e acoplaram a ela um projeto de utilização da arte como ferramenta de doutrinação política: formaram pintores e escultores e alcançaram razoável sucesso na prática da manipulação simbólica – por exemplo, o caso do hino nacional e da bandeira brasileira.
José Murilo ainda iria aprimorar um pouco mais a excelência do historiador no uso das fontes improváveis. Numa tarde em 1985, visitando o Museu de Arte Regional de São João Del Rei, ele deparou com duas toalhas bordadas, de autoria de João Cândido Felisberto. Levou um susto; aquele não era um personagem qualquer. João Cândido foi o marujo-líder da Revolta 1910, o descendente de escravizados que enfrentou o uso de açoites na Marinha de Guerra do Brasil, desafiou a oficialidade e apontou os canhões de três encouraçados – Minas Gerais, Bahia e São Paulo – para a cidade do Rio de Janeiro. Marujos remendam velas e sabem costurar, mas bordar?, deve ter se perguntado, meio perplexo. Intrigado, ele se lembrou de Princeton, recordou a análise das brigas de galos, em Bali, feita por Clifford Geertz, ou do livro sobre o massacre dos gatos, de Robert Darnton, e resolveu arriscar. Sustentou os bordados como fonte historiográfica e, a partir deles, construiu um perfil inédito de João Cândido – compôs um texto capaz de se movimentar entre o presente, em que se rememora, e o passado, que se recupera.
Fazer perfis é tão difícil quanto escrever uma biografia convencional. A chave de um perfil construído por José Murilo está no detalhe. Ele examina minuciosamente o personagem, às vezes durante anos, até encontrar um pormenor que o leitor talvez não conheça ou nem sequer imagine, e que pode ser tão singular e especial que se torna inesquecível na imaginação de quem lê. É uma técnica de perito e costuma funcionar – ao menos quando utilizada por ele. É fácil verificar. Nenhum de seus leitores desconhece o peso da solidão de João Cândido, preso num porão, na ilha das Cobras onde muitos de seus companheiros encontraram a morte, soturno, a bordar – as duas toalhas, ele as deu a um jovem soldado de São João Del Rei designado para servir de guarda na prisão.[29] Ninguém que o tenha lido consegue se esquecer do anjo torto de Carlos Drummond de Andrade soprando a Euclides da Cunha: “Vai, Euclides, ser gauche na vida”. E ele foi. No Exército, na Engenharia, no casamento. “Era o mais sublime e genial dos gauche”,[30] escreveu José Murilo; nunca se adaptou ou encontrou um paradeiro fixo. Tampouco seu leitor deixará de rememorar a absoluta coerência e constância de José do Patrocínio na luta pela Abolição e sua capacidade de encarná-la na própria personalidade – “falava e escrevia com o coração nos lábios”, diz o título do perfil.[31]
Talvez o ponto mais original da obra de José Murilo seja seu encontro com esses personagens, homens e mulheres, cujas vidas ele escolheu registrar e difundir. As biografias, por sua natureza, concentram-se em uma vida única – uma bios. Essa vida, contudo, está dobrada dentro de uma história maior. Impressionado com o poder do esquecimento, José Murilo nunca deixou de andar às voltas com a linha difusa da biografia, o resgate da experiência daqueles que viveram os fatos, o reconhecimento, nessa experiência, de seu caráter quebradiço e inconcluso e com a interpelação de sua significação histórica geral. Publicou pouco – apenas três biografias. A primeira, D. Pedro II”pode parecer uma extravagância do autor, disposto a retornar, mais uma vez, ao tema do Estado e da nação – um leitor um tanto malcriado há de perguntar ao historiador se já não existem biografias suficientes do imperador e se já não se conhece satisfatoriamente sua vida. Aparentemente sim. Aparentemente sim. Mas alguma coisa ainda pode se alterar na cabeça desse leitor impertinente depois de entrar em contato com o livro publicado em 2007..
Na realidade, José Murilo desmembrou seu personagem em dois, arquitetou duas biografias no lugar de uma, e seus biografados estão em conflito permanente. Um deles é o imperador Pedro II, meio burocrata, mas com alma de patriota, que governou o Brasil por quase meio século, de 1840 até a proclamação da República, em 1889. Pedro de Alcântara, o outro biografado, era um sujeito cheio de contradições, que gostava de ler e sonhava em ser um cidadão do mundo. O biógrafo escarafunchou a vida dos dois Pedros durante anos e compôs para o livro um texto narrativo – provavelmente sua única incursão no gênero. Deu certo. A narrativa flexiona e atraí duas pontas extremas: a trajetória pessoal de um indivíduo e o sentimento do tempo vivido pelos homens. O texto é certeiro, ao mesmo tempo leve e contundente, e o ritmo meio hipnotizante da narrativa revela que os dois biografados conseguiram conviver, ainda que em permanente tensão. Foi a paixão pelo Brasil, explica José Murilo. E arrematou: era isso que o imperador compartilhava com o sujeito meio cosmopolita que parecia não combinar com seu próprio país – a força de um afeto.
A segunda biografia ele dividiu com as irmãs – Maria Selma de Carvalho e Ana Emília de Carvalho. Histórias que a Cecília contava[32] foi escrita a seis mãos com o propósito de recuperar o mundo dos contos de fada europeus – depois de filtrado pelo cotidiano oitocentista das fazendas mineiras e transposto para a linguagem oral dos descendentes de escravizados. Maria Cecília de Jesus era lavadeira na fazenda de Santa Cruz, onde José Murilo nasceu, em Piedade do Rio Grande, região de pecuária leiteira, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Encerrado o jantar, às cinco da tarde, ela se tornava o centro das atenções: no chão de terra batida da cozinha, ao redor de um pequeno fogo, Cecília contava histórias para a criançada atenta: José Murilo, seus oito irmãos e quem mais estivesse por lá. Dava voz aos personagens, imitava os sons, gesticulava, na melhor tradição dos contadores de história africanos.
Histórias que a Cecília contava trata da arte de contar histórias. O livro foi construído a partir de duas indagações originais. A arte de contar histórias – no caso de Cecília – está vinculada à tradição africana. De europeu só havia a origem dos contos e a língua portuguesa. “Cecília vestia suas histórias de linguagem popular puramente brasileira”, anota José Murilo, “com um reforço mútuo das fonéticas do português arcaico e de línguas africanas, ao lado da hegemonia das vogais: pegar vira pegá, mais vira mai, dois figos viram dois figo”. A inclusão dos contos no livro, narrados pela sobrinha de Cecília, Maria das Dores, que deu sequência à tradição da família, permite ao leitor acompanhar as alterações na língua e na arte de contar. O grande problema, contudo, dizem os autores, é saber como se formou o repertório dessas contadoras de histórias, já que apenas dois dos contos são de origem africana; a maioria provém da Europa, sobretudo Portugal, e alguns são de origem indígena.
A outra indagação dos autores desperta ainda mais curiosidade no leitor. É possível detectar, afinal, os momentos em que o escravizado de origem africana se apropriou de um patrimônio cultural europeu e indígena, misturou isso ao africano e passou a divulgar o resultado da mistura? Difícil saber. Mas sempre se pode especular. Em algum lugar, em algum momento, em alguma fazenda, alguém familiarizado com a tradição europeia transmitiu os contos de fadas a um antepassado – ou antepassada – de Cecília, que os decorou e passou adiante. Como esses antepassados já podiam estar em Minas desde o final do século XVIII, eles tiveram tempo suficiente para aprender o português e absorver o repertório. São apenas conjecturas. Não existem evidências, confirma José Murilo; ainda não se sabe o bastante para esclarecer a natureza dos contatos culturais dentro da escravidão. Há um elo perdido em nossa história, segundo sua conclusão.
Cecília não foi a única personagem feminina que José Murilo ajudou a escapar das sombras do passado e voltar à tona em um livro. Jovita Alves Feitosa: voluntária da pátria, voluntária da morte,[33] publicado em 2019, é um esboço biográfico de uma figura histórica que não deixou quase nenhuma documentação própria – exceto três registros confiáveis com declarações suas. Nasceu em 1848, no interior do Ceará, mudou-se para Jaicós, no interior do Piauí, e era uma adolescente de dezessete anos quando tomou conhecimento da Guerra do Paraguai e do apelo do governo imperial dirigido à população, pedindo voluntários. Indignada com as crueldades praticadas pelas tropas paraguaias contra as mulheres brasileiras na invasão da província do Mato Grosso, em 1864, que deu início à guerra, Jovita decidiu voluntariar-se. Cortou os cabelos com uma faca, se vestiu de homem, alistou-se e foi aceita no posto de segundo-sargento. Quando seu disfarce foi descoberto, ela não teve dúvida: anunciou em alto e em bom som que não pretendia ser enfermeira ou prestar serviços considerados femininos. Voluntariou-se para matar paraguaios e vingar mulheres brasileiras abusadas pelo inimigo, explicou às autoridades, muito segura de si.
Virou a Joana d’Arc brasileira, conta José Murilo. Foi exaltada pelo Brasil afora, ganhou versos e aplausos, fez um percurso triunfal até o Rio de Janeiro. Mas, em pleno século XIX, numa sociedade conservadora e hierarquizada até mais não poder, trucidar paraguaios não era coisa para mulher, e quando a Secretaria da Guerra recusou sua incorporação como combatente, ela se desorientou; sua vida a partir daí é cheia de pontos cegos, confirma o biógrafo. Então, em 1867, com apenas dezenove anos, matou-se com–por amor. Jovita é uma mulher gloriosa, trágica, valente, apaixonada, e sua história não diz só sobre ela; fala também das apropriações que dela se fizeram e se continuarão a fazer. A grande proeza do livro é esta: combinar o rigor da pesquisa, capaz de tirar o máximo proveito das fontes escassas, com a sensibilidade do biógrafo, preocupado em se aproximar da personagem e entender sua complexidade – seus sonhos e sua luta, como ele escreveu. Não deve ter sido fácil a tarefa de distinguir, na medida do possível, fato e mito. Jovita era uma “mulher polissêmica”, como José Murilo a definiu, aberta a múltiplas leituras: desafiou o papel feminino determinado pela sociedade patriarcal, foi exaltada como heroína da pátria e desclassificada como mulher pública no sentido moral predominante então – tudo ao mesmo tempo. Um jornalista anônimo da época simplesmente desistiu da tarefa de retratá-la, conta o livro: “Dizem que é uma moça, mas uma moça que é um homem; dizem que é um sargento, mas um sargento disfarçado”. E se ela for uma feiticeira?, desesperou-se.
Nas duas biografias femininas que escreveu, José Murilo teve o cuidado de reproduzir integralmente as fontes inéditas, pouco conhecidas ou dispersas. Na saga de Jovita, ele dividiu os documentos de época de acordo com a trajetória da personagem e, com um pouco de imaginação, o leitor quase consegue escutar a voz da biografada. No caso das histórias contadas por Cecília, isso é literalmente possível: o livro é acompanhado por um CD, em que a voz da sobrinha da contadora foi gravada. É claro que valia à pena reeditar as fontes, tanto pela originalidade quanto pelo sabor dos contos de Cecília, ou pela riqueza de informações que trazem sobre a época em que Jovita viveu. Mas, na obra recente de José Murilo, a reunião e reprodução das fontes têm também o propósito de expandir o foco e o alcance dos documentos, permitindo que outros historiadores revelem novas dimensões dos acontecimentos. “O pessoal do Cinema Novo receitava ‘uma ideia na cabeça e uma câmara na mão’; o historiador tem que ter muitas ideias na cabeça e muitos documentos na mão”,[34] ele explica com bom humor.
José Murilo leva a receita a sério. Em parceria com dois colegas do Rio de Janeiro – Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves e Marcello Basile –, saiu à cata dos panfletos escritos à época da Independência do Brasil. Por mais de dez anos, os três historiadores vasculharam bibliotecas, coleções e arquivos de Portugal, Brasil, Estados Unidos e Uruguai procurando pelos “pasquins” ou “papelinhos”, como se dizia para designar, nas primeiras décadas do século XIX, em Portugal e no Brasil, uma grande diversidade de escritos e comentários políticos. Panfletos podem ser manuscritos ou impressos, geralmente circulam na forma de folhas individuais ou folhetos, sem lombada ou capa, com costura frouxa e número variado de páginas, e costumam ter entre uma e cinquenta páginas. Provavelmente nunca saberemos quantos panfletos foram escritos nesse período, mas o trio reuniu uma coleção respeitável – 32 manuscritos e 362 impressos, publicados em 2012 e 2014 respectivamente.[35]
Um panfleto pode trazer texto em prosa ou verso. Também incorpora uma grande variedade de gêneros. À época da Independência, assumiram a forma de cartas, ensaios sobre política, sermões, orações, discursos, diálogos, catecismos, dicionários, manifestos proclamações, protestos, apelos, elogios e poemas. Produzidos tanto por brasileiros separatistas como por partidários da Monarquia portuguesa, os panfletos travaram uma “guerra literária”, como então se dizia; circularam desde a Revolução Liberal do Porto até a independência completa do Brasil, efetivada em 1823, com a libertação da Bahia. Ocorreu um debate amplo, que não se limitou ao Rio de Janeiro e a Lisboa, nem ficou restrito à elite e aos letrados. Pela leitura dos panfletos, é possível avaliar o ambiente intelectual da época e a formação de um repertório político não apenas no plano da ordenação de ideias e constituição de vocabulário, mas também no âmbito das práticas simbólicas e da imaginação.
Em 2018, no livro Clamar e agitar sempre: os radicais da década de 1860,[36] José Murilo voltou a publicar uma coleção de documentos inéditos: uma série de conferencias públicas, depois conhecida como Conferências Radicais”. Para completar, ele nos entrega uma de suas melhores análises sobre um dos capítulos mais intensos e menos conhecidos da vida pública brasileira. Nos anos de 1860, durante o Segundo Reinado, graças ao ativismo de um grupo de jovens dissidentes do Partido Liberal, temas e ideias novas entraram em circulação, e o debate sobre questões de interesse coletivo foi empurrado para fora da esfera político-institucional, deslanchando de vez na sociedade. Veio à tona um momento em que algo de novo, de radicalmente novo, pôde se desenrolar em nossa história: as raízes para fundação do espaço público no país finalmente encontraram o terreno adequado. Havia ali uma visão política diferente – democrática, reformista, moderna.
José Murilo de Carvalho costuma se definir como “uma mistura de sociólogo e cientista político com vocação de historiador”. Convenhamos: não é pouca coisa. Vista em conjunto, sua obra revela a estrutura de encaixe dos temas, embutidos uns dentro dos outros e essa estrutura ganha perspectiva. É uma ordenação engenhosa: uma história dá ensejo a outra, que revela uma terceira, que pode destampar o enredo mais uma história, e assim por diante. Não sabemos se ele já atinou para isso, mas esse tipo de estrutura tem filiação: está na origem da narrativa como gênero literário. A explicação é simples. A obra de José Murilo compõe uma longa, incisiva e reveladora narrativa sobre o Brasil – e sobre o desencontro do Brasil consigo mesmo. Contudo, falta uma epígrafe. Talvez o autor se reconheça – e à sua obra – no verso de Carlos Drummond de Andrade: “Meu país, essa parte de mim fora de mim/ constantemente a procurar-me.”[37]
[1] CARVALHO, José Murilo de. “Fortuna e Virtù no golpe de 1964”. In: Forças armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005, p. 125.
[2] CARVALHO, José Murilo de. “Introdução”. In: Forças armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005, p. 8.
[3] CARVALHO, José Murilo de. “1964 meio século depois”. Nova Economia. Belo Horizonte: FACE/UFMG, jan./abr. 2014. p. 2
[4] CARVALHO, José Murilo de. CARVALHO, José Murilo de. “Introdução”. In:_. Forças armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. p. 8
[5] Id. “As Forças Armadas na República: um poder desestabilizador”. Cadernos DCP, n° 1, 1974; Id. “As forças armadas na Primeira República: o poder desestabilizador. In: FAUSTO, Boris (org.), História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 1977, tomo II, v. 2.
[6] Id. “Uma República tutelada”. In: Forças armadas e política no Brasil. São Paulo: Todavia, 2019.Creio que não cabe indicação de página. Estou citando o artigo. Não tem aspas
[7] Entrevista com José Murilo de Carvalho. “Um país frustrado”. O Tempo, 19.12.1999, pp. 4-5.
[8] HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 183-4.
[10] Entrevista com José Murilo de Carvalho. In: MORAES, José Geraldo Vinci de, e REGO, José Márcio, op. cit, p. 172.
[11] Ibid, p. 168; Entrevista “Um país frustrado”. O Tempo, 19.12.1999, p. 4.
[12] CARVALHO, José Murilo de. “Terra do Nunca: sonhos que não se realizam”. In: BETHELL, Leslie (org.) Brasil: fardo do passado, promessa do futuro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 50 e seguintes.
[13] Entrevista com José Murilo de Carvalho. In: COUTO, José Geraldo. Quatro autores em busca do Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, pp. 23-4.
[14] CARVALHO, José Murilo de. A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
[15] CARVALHO, José Murilo de. “As marcas do período”. In: CARVALHO, José Murilo de. A construção nacional 1830-1889, v. 2. Rio de Janeiro: Objetiva/ Fundación Mapfre, 2012.
[16] Id. “Brasil de Noel a Gabriel”. In: O pecado original da República. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2017.
[17] Entrevista com José Murilo de Carvalho. In: MORAES, José Geraldo Vinci de, e REGO, José Márcio, op. cit, pp. 175-6.
[18] Entrevista “José Murilo de Carvalho: a formação de uma alma histórica”. História & Memória. Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, set. 1998, no 7, pp. 3-4. Parte dos resultados da pesquisa que realizou no CPDOC foi publicada pela editora da Fundação Getúlio Vargas, em 1999, sob o título de Cidadania, Justiça e Violência, livro organizado por Dulce Pandolfi, José Murilo de Carvalho, Leandro Carneiro e Mário Grynszpan.
[19] Entrevista “José Murilo de Carvalho: a formação de uma alma histórica”. História & Memória, op. cit., p. 4.
[20] DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
[21] STONE, Lawrence. “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History”, publicado na revista Past &Present, n. 85, nov. 1979, Oxford University Press.
[22] DARTON, Robert. O grande massacre dos gatos e ouros episódios da história cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
[23] Entrevista “José Murilo de Carvalho: a formação de uma alma histórica”. História & Memória. p. 4.
[24] CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
[25] CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi, op. cit, p. pagina 162.
[26] Entrevista com José Murilo de Carvalho. In: COUTO, José Geraldo. Quatro autores em busca do Brasil, op. cit. pp. 21-2.
[27] CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
[28] Id. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
[29] Id. “Os bordados de João Cândido”. In: Pontos e bordados; escritos de história e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.
[30] Id. “Euclides da Cunha e o Exército”. In: Forças Armadas e política no Brasil. São Paulo: Todavia, 2019, p. 204.
[31] Id. “Com o coração nos lábios”. In: Pontos e bordados: escritos de história e política, op. cit., p. 423 e seguintes.
[32] JESUS, Maria Cecília de; ALVES, Maria das Dores. Histórias que a Cecília contava. CARVALHO, Maria Selma de; CARVALHO, José Murilo de; CARVALHO, Ana Emília de (orgs.) Belo Horizonte: Editora UFMG/ Instituto Cultural Amílcar Martins, 2008.
[33] CARVALHO, José Murilo de. Jovita Alves Feitora: voluntária da pátria, voluntária da morte. São Paulo: Chão Editora, 2019.
[34] Entrevista de José Murilo de Carvalho. “No furacão da História”. In: CARVALHO, José Murilo de. O pecado original da República, op. cit., p. 288.
[35] CARVALHO, José Murilo de; BASTOS, Lúcia; BASILE, Marcello (orgs.). Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823). São Paulo/ Belo Horizonte: Companhia das Letras/ Editora UFMG, 2012; e CARVALHO, José Murilo de; BASTOS, Lúcia; BASILE, Marcello (orgs.). Guerra literária: panfletos da Independência (1820-1823), 4 v. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
[36]CARVALHO, José Murilo de. Clamar e agitar sempre: os radicais da década de 1860. Rio de Janeiro: Topbooks, 2018.
[37] ANDRADE, Carlos Drummond de. “Canto brasileiro”. In: As impurezas do branco. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1988, p. 429.